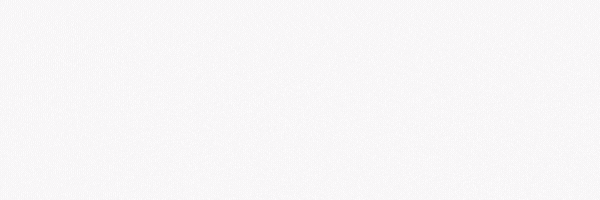Hoje nós entrevistamos com Moema Rodrigues Brandão Mendes, graduada em Letras Clássicas e Vernáculas e Teoria da Literatura, Especialista em Estudos Literários ambos pela Universidade Federal de Juiz de Fora (MG), Mestre em Letras pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora (MG). Doutorado em Letras pela Universidade Federal Fluminense.
(Archivoz) Moema obrigada por ter aceitado nosso convite. Você é da área de Letras, como surgiu seu interesse pelos arquivos?
(Moema Rodrigues Brandão Mendes) Agradeço o convite e a oportunidade de compartilhar nossas pesquisas e gostaria de estender os meus agradecimentos aos pesquisadores-membros do GT “Arquivos literários: memória, resgate, preservação” estabelecendo os devidos créditos à Águida Heloiza Almeida de Paula, à Andréia Ferreira Carvalho, à Ana Flávia Araújo Dias, à Bárbara Pereira Gonçalves Nolasco, à Cleíze Pires de Mendonça, à Eliane Vasconcellos, a José Alberto Pinho Neves e a Paulo Roberto Soares. Quanto ao surgimento do interesse pela pesquisa em arquivos, penso que o mesmo sempre existiu, precisando apenas de uma oportunidade para se manifestar. Conforme apresentação inicial, minha graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado (este último em andamento) desenharam o percurso para que eu me compreendesse como pesquisadora hoje.
Tudo começou efetivamente com Mestrado em Letras (2003) no, então, Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, atualmente (2020), Centro Universitário Academia (UniAcademia). Este Mestrado em Letras, com área de concentração a “Literatura Brasileira”, oferecia à época (2003) duas linhas de pesquisa: “Literatura Brasileira: tradição e ruptura” e “Literatura de Minas: o regional e o universal”. Neste formato, os candidatos não apresentavam um anteprojeto de pesquisa. Feita a seleção e conquistada a aprovação, o mestrando cursava 4 disciplinas obrigatórias e 8 eletivas. Uma das disciplinas obrigatórias era de singular importância – Pesquisa em Literatura (PL) – haja vista que, por meio dela, o recém-mestrando construía seu projeto de pesquisa, respeitando o interesse do discente e as pesquisas desenvolvidas e supervisionadas pelo respectivo orientador. Sempre em busca de uma área de interesse e já bastante preocupada por não me interessar de fato por uma pesquise que fizesse a diferença, matriculei-me na disciplina eletiva intitulada “Leitura crítica de arquivos brasileiros” ministrada pela Prof.ª Dra. Eliane Vasconcellos que, neste momento, chefiava o Arquivo Museu de Literatura Brasileira da Fundação Casa de Rui Barbosa no Rio de Janeiro (AMLB/FCRB). Foi um ponto decisivo na minha vida acadêmica. A Prof.ª Dra. Eliane Vasconcellos nos discorreu sobre arquivos pessoais de escritores brasileiros e estrangeiros, nos impressionou com informações e esclarecimentos sobre a existência de museus de literatura no Brasil e no estrangeiro, e de forma decisiva nos apresentou o Museu de Arte Murilo Mendes (JF), o Instituto Moreira Sales (RJ), à Fundação Casa de Rui Barbosa (RJ), à Biblioteca Nacional (RJ) ao Instituto de Estudos Brasileiros (IEB/USP), a pesquisas desenvolvidas e a pesquisas por desenvolver a partir de fontes primárias o que incluía indiscutivelmente trabalhar com arquivo. Abriu-se a “caixa de Pandora”: essa era a pesquisa que eu queria desenvolver. Minha curiosidade sobre este tema ia sendo gradativamente estimulada pela Prof.ª Dra. Eliane Vasconcellos que ao constatar meu interesse, aceitou me orientar. A partir desta posição, tudo foi se delineando e os trabalhos tiveram início em Juiz de Fora havia no Museu de Arte Murilo Mendes (MAMM) administrado pela Universidade Federal de Juiz de Fora que tem sob sua guarda vários acervos de escritores e artistas que de alguma forma se relacionaram com o “dono da casa”, o poeta Murilo Mendes. Ou seja: um laboratório de pesquisa.
A aventura começou. Minha orientadora apresentou-me a obra de uma escritora não canônica, Maria de Lourdes Abreu de Oliveira, mineira de Maria da Fé, sul de Minas Gerais, propondo-me pesquisar a produção literária oliveiriana com o objetivo de valorizar e divulgar “vozes esquecidas de Minas”. Para isso, iniciei os estudos sobre as relações entre pesquisador e arquivo pessoal; entre textos éditos e inéditos, questões que se amparavam na esteira das teorias de Arquivos, Crítica Genética, Crítica Textual ou Ecdótica. Junto a todo este aprendizado vieram os conhecimentos de como lidar com herdeiros, com a política de cada museu, com ações de higienização básica de manuscritos, o que me levou a alguns cursos e oficinas de restauração e preservação. Tudo isso foi fundamental para compreender a importância manter a ética necessária para lidar com os bastidores da criação que se acomodam nos arquivos pessoais. Concluí o Mestrado em Letras com a pesquisa intitulada Colar de contos premiados: Maria de Lourdes Abreu de Oliveira – um olhar crítico genético ano de 2005. Este estudo baseou-se em orientações para a construção de um texto fidedigno, numa perspectiva genética, representada pelo cotejo de manuscritos pertencentes ao arquivo pessoal da escritora, o que permitiu que se apreendesse uma leitura plural, verificada pela diversidade de escolhas que os manuscritos ofereceram quando em confronto com o texto publicado. Para esta pesquisa foi feita a recolha dos contos produzidos pela titular, premiados em concursos literários, em nível nacional, nas décadas de 1950, 1960 e 1970, publicados esparsos em jornais e revista da época. A partir de um recorte desta pesquisa, publiquei o livro: Colar de Contos premiados: Maria de Lourdes Abreu de Oliveira (2006) por meio da Lei Murilo Mendes de Incentivo à Cultura promulgada pela Prefeitura de Juiz de Fora. Este livro foi adotado como obra literária indicada para o concurso vestibular do Curso Técnico Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (CTU/UFJF), em Juiz de Fora, nos anos de 2008 a 2010. A aventura começava a apresentar resultados definidores. Em 2006 participei da seleção de doutoramento na Universidade Federal Fluminense (UFF/RJ), apresentando um anteprojeto de pesquisa para a Prof.ª Dra. Marlene Carmelinda Gomes Mendes na mesma linha, envolvendo os estudos sobre o processo de criação do romance, Memórias sem malícia de Gudesteu Rodovalho, de autoria do escritor mineiro, não canônico, Gilberto de Alencar. Trabalhar com arquivo pessoal proporciona “o improvável” como motivação e “o revelar a aquém da obra” uma ação. Outra “voz esquecida de Minas” despontava em meu universo de pesquisa. O acervo do escritor estava ainda em posse da família com quem eu tive um contato bastante estreito já que pesquisava os manuscritos da obra neste espaço privado-familiar. A pesquisa propôs a elaboração de uma edição crítica e genética do romance Memórias sem malícia de Gudesteu Rodovalho, de Gilberto de Alencar a partir de dois manuscritos denominados manuscrito A (MsA) e manuscrito B (MsB), e duas edições. A primeira, de 1946, financiada pelo autor em Juiz de Fora, MG e a segunda, de 1957, pela editora Itatiaia, Belo Horizonte, MG. Fundamentados nas teorias de crítica textual e crítica genética, já que a 1ª tem por objeto o texto e a 2ª tem por objeto o prototexto, processou-se o cotejo deste dossiê formado pelos quatro documentos: 2 edições, em vida, e 2 manuscritos. Neste momento vivenciei a experiência da doação do acervo do escritor, Gilberto de Alencar, para o Museu de Arte Murilo Mendes (MAMM) e pude acompanhar, como doutoranda, a captação do mesmo, coordenada pelo Diretor do Museu, à época, Dr. José Alberto Pinho Neves, hoje vice-líder do GT “Arquivos literários: memória resgate preservação” com quem coordeno as pesquisas devidamente certificadas pelo CNPq. Finalizando esta trajetória inicial, deixo registrado que o contato com documentos que se relacionam com produção literária de um escritor, portanto o contato com o arquivo pessoal do mesmo, é um ato de resgate que preserva a construção da história social do homem em sua formação cultural.
(Archivoz) Quais as suas referências temáticas na Arquivologia? Ou, em qual área da Arquivologia as pesquisas do grupo estão direcionadas?
(MRBM) As referências temáticas que fundamentam nossas pesquisas estão ancoradas nos estudos sobre “arquivo pessoal e suas implicações” e sustentam-se na premissa de que o estudo relacional que envolve literatura, memória e arquivo dinamizam a compreensão da Crítica Textual, Crítica Genética e as articulações entre ficção, literatura e vida social. Aplicam-se a esta dinâmica arquivística, os estudos da organização de acervos, captação e leitura de manuscritos, elaboração de edição crítica e de edição genético-crítica e consulta aos gêneros de fronteira: a escrita eletrônica, o manuscrito eletrônico, os diários e as crônicas de jornais pesquisadas como arquivo de criação.
Chamo a atenção para a contribuição educacional, que o GT proporciona na formação de pesquisadores, com ênfase para os estudos da literatura produzida na região da Zona da Mata mineira e proximidades, que, além de capacitar os estudiosos, propicia a formação de novos arquivos que, por sua vez, permitem novas pesquisas. Dessa forma, amplia-se o quadro de pesquisadores, o conhecimento do acervo a ser explorado e, finalmente, a divulgação da produção cultural da região no país, destacando a produção literária de Minas Gerais e a inserção de escritores mineiros no panorama brasileiro. O GT “Arquivos literários: memória, resgate, preservação” busca organizar e disponibilizar em meio convencional e eletrônico os acervos literários eleitos para a pesquisa, ressaltando que a preservação, hoje, abrange não apenas o documento/suporte, mas a injunção social da informação materialmente registrada no suporte.
(Archivoz) Explique a interseção entre Arquivos e Literatura?
(MRBM) Penso que no caso, não seria somente a relação entre Arquivos e Literatura. Devemos incluir as áreas de biblioteconomia e de museologia, pois, o tratamento que quaisquer arquivos recebem por parte de conhecimentos especializados – arquivologia, biblioteconomia e museologia – o afetam. Esta questão se justifica pela constatação, por meio de nossa experiência no GT, de que o deslocamento do acervo do escritor, do espaço privado para o público, resulta em uma metamorfose do arquivo literário. Os acervos literários seguem padrões de organização e classificação criados pelo próprio escritor, no entanto, ele é desterritorializado, quando retirado do ambiente privado e transferido para uma instituição pública. É uma ação que gera preocupações bem colocadas pelo teórico Reinaldo Marques, em sua obra Arquivos literários, teorias, histórias, e desafios (2015, p.31) publicada pela editora UFMG. Com o objetivo de ser tratado, conservado e disponibilizado aos pesquisadores, o acervo do escritor ganha um novo arranjo, uma nova organização, novas classificações afetando, portanto, sua constituição original. Isso tem implicações.
Em relação à importância dos estudos que envolvem Arquivos, a partir de nossas experiências, constatamos que não existe uma pesquisa acadêmico-literária que não tenha consultado um arquivo em qualquer etapa do seu estudo. No caso dos arquivos literários, eles são produzidos por literatos ao longo de sua vida e, conforme nossa constatação, não são construídos linearmente, são construídos de forma híbrida, incluindo as correspondências, os livros, os bilhetes, os telegramas, os cartões postais, os recortes de jornais e outros objetos pertencentes aos escritores como obras de arte, máquinas de escrever, mobiliário, óculos e canetas, por exemplo. O teórico, Reinaldo Marques representa bem nossa crença ao registrar que “a incursão pelos arquivos literários constitui etapa indispensável da pesquisa literária hoje, sobretudo se se pretende buscar algum nível de ‘originalidade’ ou de força crítica, capaz de deslocar o que está dado e consagrado. Já se mostram mais claros hoje os limites de uma pesquisa literária restrita ao plano meramente bibliográfico, sem os suplementos dos arquivos dos escritores” (2015, p.32). O pesquisador, certamente, ao ter acesso aos documentos do arquivo pessoal do escritor tem a possibilidade de solucionar lacunas que não estavam preenchidas, pois o acesso aos documentos que registram pensamentos e anotações do autor que tratam da gênese da obra, podem mudar toda a história da criação literária. Finalizando, ressalta-se que fatores preponderantes constatam a inegável construção de um novo objeto teórico que é o arquivo literário, e inegável são suas contribuições para que a memória literária seja resgatada e preservada.
(Archivoz) Quais são os frutos do grupo?
(MRBM) Os frutos iniciais são a consolidação da fundamentação teórica e o entendimento da necessidade de conscientizar os pesquisadores de se precaverem, no momento atual, em relação ao desaparecimento gradativo dos acervos de papel o que, com certeza, contribuirá para o afastamento e perda do processo de criação autoral e uma complexidade em relação às pesquisa, em fontes primárias. Trabalhar a documentação dos titulares e tornar real a liberação de acesso ao público, é mais um fruto que muito contribuirá para a credibilidade das pesquisas neste setor.
A proposta do GT tem como objetivos-eixo: identificar as produções inéditas; empreender a leitura dos manuscritos e o confronto das versões, numa perspectiva genética, a fim de registrar o processo de criação do titular; gerar fontes secundárias (inventário analítico com biografia e bibliografia) para o estudo da vida e da obra dos autores eleitos a partir da fonte primária, ou seja, do seu próprio arquivo; elaborar uma fortuna crítica atualizada e mediar a captação de acervos em situação de privado para uma instituição pública. Para isso são necessárias leitura e descrição do acervo, com posterior, preenchimento das planilhas com as informações retiradas dos documentos, seguidas do estabelecimento de notas, descritores, e de indicação de anexos. Importa ao GT empreender pesquisas em fontes diversas sobre a vida e obra do titular para elucidação de informações contidas nos documentos e a inserção dos nomes de autores, de outras pessoas físicas e de assuntos nas bases de Autoridade – Autor, Nomes e Assuntos, respectivamente, incluindo-se remissivas e referências. Todas as ações do GT são devidamente mencionadas em palestras, seminários e cursos que porventura participarem os pesquisadores envolvidos nas diversas etapas do projeto, bem como no seu lançamento oficial junto às universidades e centros de estudos brasileiros, tanto no Brasil como no exterior.
Neste momento encontram em andamento pesquisas que envolvem a obra da escritora mineira Raquel Jardim sob a coordenação do vice-líder do GT, Dr. José Alberto Pinho Neves, as colunas jornalísticas de Gilberto de Alencar na Gazeta de Paraopeba (1945) sob minha coordenação e supervisão da Dra. Eliane Vasconcellos e as crônicas da carioca Corina Coaracy (séc. XIX) sob a supervisão de Eliane Vasconcellos e Ivete Maria Savelli com a minha colaboração.
(Archivoz) Daqui a dez anos você como imagina as pesquisa em Arquivos literários?
(MRBM) De um lado, constatamos com nossas experiências das ações do GT “Arquivos brasileiros: memória, resgate, preservação” que o advento da Internet e suas tecnologias, ao criarem a sociedade virtual, o ciberespaço, promoveram a desterritorialização de signos e de formas de preservação da memória. Preservar deve ser uma preocupação da Ciência da informação, haja vista que o espaço virtual é um meio instável e, principalmente, veloz, no qual os registros estão em constante movimento. Daqui a dez anos, a preservação como a entendemos hoje, já não nos parece predominantemente possível. A preservação dos arquivos de escritores como vivenciamos nos permitem realizar um trabalho de recuperação de outras versões de um texto, fato importante para acompanhar o processo de criação de uma obra, objeto fundamental em nossa linha de pesquisa. Por outro lado, entendendo o espaço virtual como “um novo lugar de memória”, compreendemos de forma positiva que as tecnologias aumentaram significativamente o acesso a documentos digitalizados e disponibilizados para pesquisa pública como as hemerotecas digitais. Porém, os programas de digitalização de documentos estão preparados para acompanhar a efemeridade dos softwares? Tudo isso, certamente, traz implicações.
Entrevista realizada por Débora Villar Melo